PREPARATIVOS PARA O APOCALIPSE: Melancolia cósmica, arte desesperada e misticismos-da-agonia no filme “4:44 – O Fim do Mundo”(Abel Ferrara, 2011)

“O que você faria se só te restasse um dia?
Se o mundo fosse acabar
Me diz o que você faria…”
PAULINHO MOSKA
Não tendo jamais sido um cineasta que embala balinhas adocicadas para o consumo de massas viciadas em marshmallow, Abel Ferrara fez um filme-de-apocalipse singularmente provocativo e sui generis. 4:44: Last Day On Earth (2011) não é exatamente o famoso soco-no-estômago que se espera dos enfant terribles da arte, mas deixa no paladar um travo amargo e nos deixa pensando sobre a importância da arte para entidades finitas e mortais como estas que cada um de nós está provisoriamente sendo.
Similar em ambiência afetiva e temática com o Melancolia de Lars Von Trier, que aliás foi lançado no mesmo ano de 2011, o filme causa na reflexão um vórtex de espantos diante de fenômenos da condição humana no Antropoceno.
A inelutável chegada do fim-da-vida-humana-sobre-a-terra acarreta pandemias de niilismo e desânimo cósmico em meio aos arranha-céus de NYC nesta obra-de-arte sinistra e reverberante. Há espraiado pelo filme um senso de desalento diante da insignificância de quaisquer atos individuais, ou mesmo de vidas inteiras, ou até de civilizações supostamente fortes que abrigam a sucessão de gerações, diante da imensidão do tempo e do espaço onde o ser humano e suas crias tecnológicas aparecem como algo infinitesimal (como lindamente cantado pela banda italiana Marta Sui Tubi).
O filme não é nenhum OVNI na filmografia de Ferrara – quem o acompanha sabe da predileção deste cineasta por temas “existencialistas” e pungentes, por investigações viscerais sobre o bem e o mal tal como se manifestam na carne-que-escolhe de personagens envolvidos em Vício Frenético (Bad Lieutenant, 1992), carnificinas psicóticas (The Driller Killer, 1979, ou Ms. 45) ou sucumbindo à tristeza e tensão de funerais gangsterizados (Os Chefões – The Funeral, 1996).
Na Revista Cinética, Fábio Andrade destacou bem: “Qual filme de Abel Ferrara já não carregava em si algo de plenamente apocalíptico? Seja na fragmentação imagética da fé em Maria, no cabaré que definha em Go Go Tales, no cerco que fecha incessantemente em Body Snatchers, ou no paraíso decaído de Bad Lieutenant, Abel Ferrara vem, há anos, filmando novas versões de um mundo em decadência, se desintegrando a cada fotograma. 4:44 talvez seja apenas o seu filme mais literal sobre um tema que o movimenta desde o princípio de sua carreira, colocando-nos frente a frente com o fim. Mas, no cinema de Ferrara, a consciência do fim sempre foi uma questão de princípio.”
Virando do avesso a vibe alto astral que o R.E.M. imprime a um de seus maiores hits dos anos 1980, o casal protagonista de 4:44 sente o impacto funesto no “astral” com a iminência da chegada deste fim-de-mundo noticiado pela mídia em tempo real. Este weather forecast altamente desfavorável acabará gerando nos personagens principais e naqueles ao seu redor tudo aquilo que remete ao descontrole, à indignação, à incapacidade de aceitação serena do que está por vir. São crises de choro, irrupções de sexualidade incontida, ataques de histeria, impulsos suicidas – it’s the end of the world as we know it… and they don’t feel fine.
Do ponto de vista da especulação sci-fi, o experimento fílmico Ferrariamo parece-me encarar um caminho contrafactualista, ou seja, constrói sua narrativa a partir de um como se (as if) – no sentido que Hans Vaihinger com profundeza ímpar estudou. 4:44 é uma ficção que revela o que teria sido na História concreta pregressa não se materializou: o filme parte da premissa de que a humanidade não pôde, em tempo oportuno, vencer o desafio posto pela destruição da camada de ozônio. Logo ao raiar do filme o espectador já é mergulhado na bad news: às 4 horas e 44 da próxima madrugada, o mundo vai acabar num grande meltdown e não haverá sobreviventes.
Lançado em 2011, a obra pode ser chamada de contrafactual pois no começo da década em que veio aos cinemas já não se lia como ameaça existencial para nossa espécie a destruição da camada de ozônio – com sucesso, havíamos conseguido debelar esta crise. Porém, Ferrara não deixa dúvidas de que situa sua narrativa na era das catástrofes climáticas (para evocar aqui o título do importante livro de Isabelle Stengers) e não teme dar voz e vez a Al Gore, que causou um certo impacto com seu documentário Uma Verdade Inconveniente em 2006, e que aparece “citado” em uma televisão que costumam assistir o casal interpretado por Willem Dafoe (Cisco) e Shanyn Leigh (Skye).
Cisco e Skye são um casal envolvido com as artes – ele um ator, ela uma pintora. Quando a notícia do fim iminente os atinge, ela segue produzindo obras, aliás bastante desprovidas de qualquer sentido reconhecível e que parecem uns borrões com tinta que evocam vagamente os experimentos de Jackson Pollock (sobre este, vale ver a biopic dirigida e estrelada por Ed Harris). Ele escreve algumas palavras em um caderno que lhe serve de diário, mas que logo lança pela janela, revoltado contra a inutilidade de escrever neste contexto em que ninguém estará vivo amanhã, ano que vem ou no século vindouro para ler.
Numa das primeiras cenas, Cisco está fazendo a barba e Skye o interpela com a questão: “pra que isso?” Ele diz que faz por ela, cause she likes it smooth. Mas o diálogo espraia um clima de absurdidade sobre todos os atos cotidianos, mostra o quanto de nossas correrias corriqueiras só fazem algum sentido na perspectiva de que haverá para nós uma vida futura. Quando tudo se acabará amanhã, para a maioria das coisas podemos ser tentados a dizer “why bother?” (por que se importar?).
Do ponto de vista ético, o filme nos interpela de maneira semelhante àquela canção de Moska citada na epígrafe: “o que você faria se só te restasse um dia?” Ferrara faz a crônica dos comportamentos nada louváveis e demasiado humanos diante da iminência do desfecho da “aventura humana na terra”, diante do “fim da odisséia terreste” (para citar aqui, um tanto bizarramente, aquele axé da Banda Eva). Em Ferrara, porém, não há salvacionismo miraculóide como ocorre na fuga em uma “nova arca de Noé” celebrada na voz de Ivete Sangalo.
O filme também tem seu interesse ao revelar a extensão do descompasso entre nosso avanço tecnológico e nosso atraso moral-cognitivo: digo isto pensando nas video-chamadas por Skype que possibilitam que os personagens digam adeus àqueles parentes e amigos que estão distantes, uma autêntica proeza das telecomunicações e da cibernética, que aliás seria presença quase onipresente na vida dos “teletrabalhadores” que centenas de milhões de nós fomos obrigados a nos tornar durante a pandemia de covid19 (2019-2022).
Porém, em contraste, o mindset das pessoas hiperconectadas é muitas vezes medieval, anacrônico, analógico, religiosamente fundamentalista, avesso às tarefas da responsabilidade e da lucidez que nossa contemporaneidade exige de cidadãos de fato atentos à teia da vida e sua salvaguarda.
Um exemplo: Cisco, estado civil: desquitado, liga por Skype para sua filha, e esta lhe informa que a mãe (ex-esposa de Cisco) está fingindo que tudo está normal e que nada de mais vai acontecer nas próximas horas. A mãe, segundo a filha, está in denial – notável aparição, no filme, do tema do negacionismo da crise climática e que nos remete, por exemplo, à obra memorável Mercadores da Dúvida de Naomi Oreskes e Eric Conway, que por sua vez originou o documentário de R. Kenner (2014).
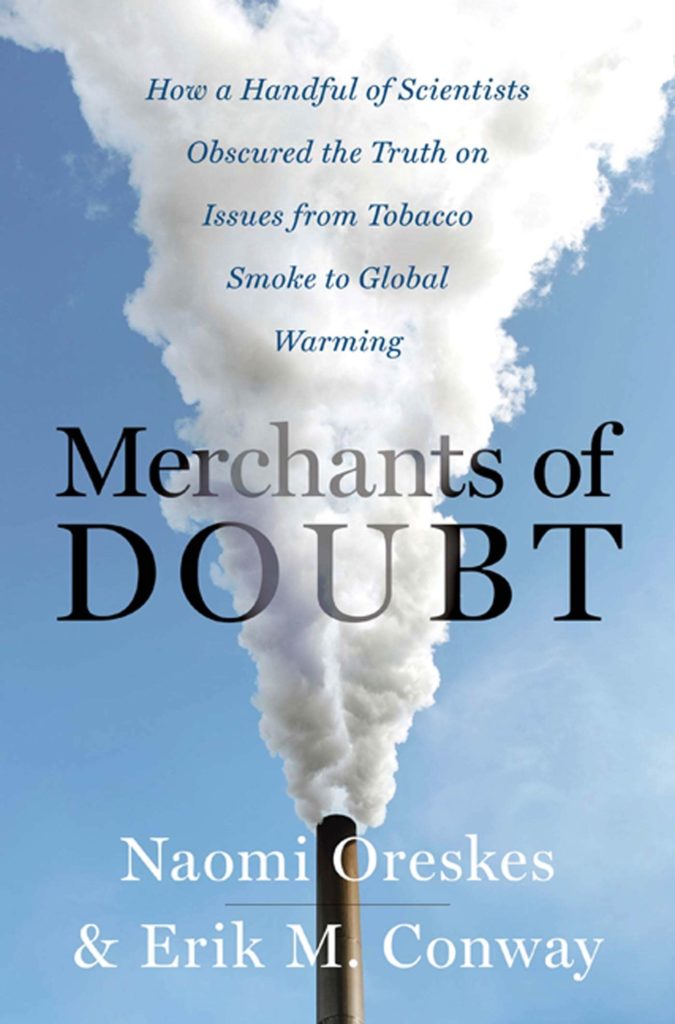
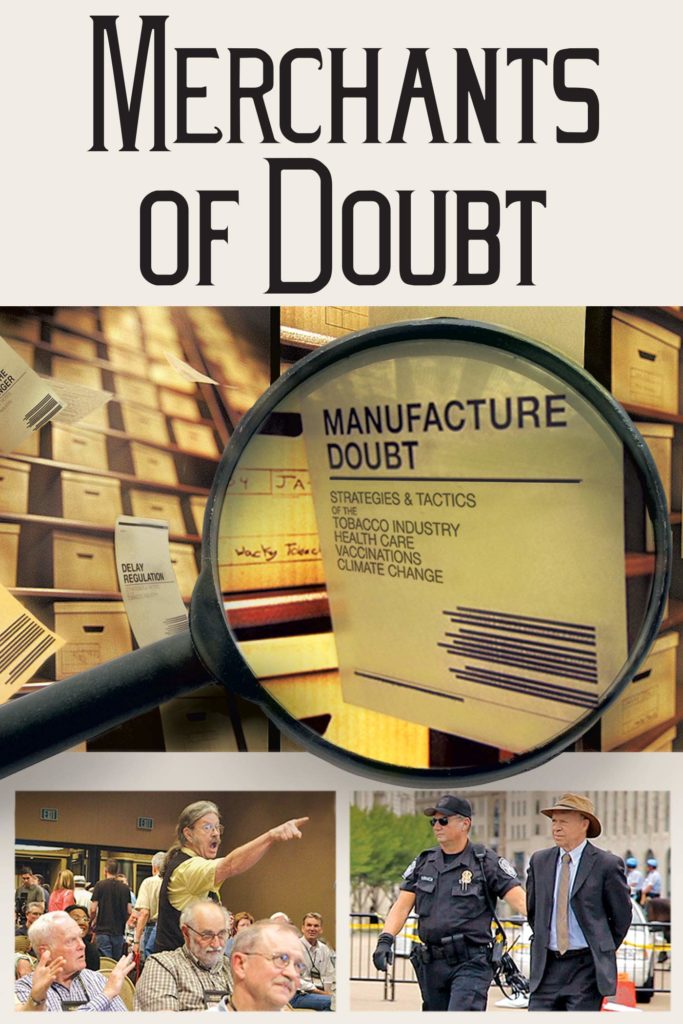
Mais ético do que científico – ou seja, mais atento ao intento de plasmar comportamentos do que especular sobre os rumos das ciências naturais -, o filme não deixa de colocar para a Ciência com C maiúsculo uma série de desafios. O número do título serve para evocar, desta Ciência tão eficaz, a precisão, a capacidade preditiva que eu ousaria adjetivar como “cirúrgica”: os cientistas, no caso os climatologistas, conseguem afirmar o minuto exato em que o apocalipse se dará. Não será nem às 4:45, nem às 4:43, mas sim às 4:44.
O filme até levanta em alguns momentos a hipótese de que este seja um apocalipse fake, como foi o Bug do Milênio na virada de 1999 para 2000, mas Ferrara logo saca seu arsenal limitado de efeitos especiais para fazer os ventos uivarem e as luzes estranhas surgirem no céu noturno, enquanto as TVs saem do ar e a elergia elétrica colapsa, para afirmar que se trata, no âmbito da representação fílmica, de um apolicapse de fato. A escolha então torna-se um grande tema: passar os últimos momentos sóbrio ou chapado? Transando ou fazendo ioga? Desmaiado com coma alcóolico ou fazendo um som com a banda de amigos?
Este é um filme que interpela o espectador com questões como aquelas que Moska disparou – por ex, na canção o músico pergunta: “você transaria sem camisinha?” No filme, as opções são rapidamente delineadas: um cara prefere dar um bife a seu cachorro (curtindo uma agonia com a espécie companheira celebrada por Haraway), outro saca seu rifle e hesita entre o suicídio e atirar a esmo, enquanto outros desmaiam de tanta chapação.
A escolha de Cisco, em suas últimas horas, após a briga com Skye, também consiste neste dilema: go get stoned, chapar o côco para atingir a numbness? Ou então ir lúcido, sóbrio, apreciar o que seu long time no see camarada anuncia como um magnífico “light show”? É um trecho com certo alívio cômico, onde soam algumas das raras gargalhadas do filme, e onde os camaradas estão diante da tentação da junkidade e debatendo sua validade num contexto onde não sobrará mundo onde sofrer ressaca física ou moral. Alguns dentre eles aceita com entusiasmo a chapação e o sexo selvagem – enquanto debatem se o espetáculo do apocalipse é um show que vale a pena assistir. Tudo vira espetáculo na NYC apocalíptica que não foi salva nem pela fé, nem pela ciência, e que agora soçobra junto com o mundo.
Outro elemento singular da fantasia apocalíptica Ferrariana é a maneira como a espiritualidade “orientalista” se manifesta desde os primeiros quadros, ao som de cítaras, e com citações diretas de uma figura que parece um guru budista e inserções de falas do Dalai Lama em pessoa. O filme também traz estilhaços de imagens provenientes da mídia que mostram vertentes da religiosidade servindo como estruturas de pertença para os últimos humanos.
Gosto do modo como o cineasta constrói um final que, apesar de não ser happy end, tem algo de uma abertura para a luz, ainda que imaginária, tremeluzente e frágil. Uma luz branca que vai acabar por inundar a tela por fim. Este banho de luz talvez reflita muito mais a consciência de Skye na hora fatal, aderindo à fusão mística com um deus incandescente e impiedoso.
Há uma menção ao pensamento de Joseph Campbell sobre a mutação emblematizada pela serpente que troca de pele. Quando ele irrompe no filme na figura de mais um “talking head palestrinha”, Campbell critica uma certa religiosidade hegemônica, judaico-cristã, que louva um deus-das-carnificinas imaginado como separado da Natureza, atuando como cosmocrata e patrão universal. Esta crença se insurge contra a unidade-dos-contrários – fato dialético do universo tal qual podemos conhecê-lo – que faz da vida este drama onde estão indissoluvelmente unidos o nascimento e a morte, a dor e o prazer, o fim e o começo, o bem e o mal, o humano e o animal, a civilização e a natureza. É preciso acolher a mudança, aceitar que tudo necessita de transformação – and skins are to be shed.
O autor de O Poder do Mito e O Herói de Mil Faces surge bem ao fim deste filme-reflexão sobre um apocalipse possível para que Ferrara possa melhor frisar a “pintura” fílmica que ele preparou como emblema: o Ouroboros pintado no chão, o casal Skye e Cisco dentro dele, abraçados no fim, num clima de camaradagem desesperada que me faz lembrar de Chris Cornell e uma das músicas mais poderosas e emocionalmente carregadas de Euphoria Morning, a estreia solo do cantor do Soundgarden e do Audioslave. Um clima que também evoca a ambiência musical e afetiva de Father John Misty no álbum Pure Comedy, sobretudo sua genial canção sobre a catástrofe fim-de-mundista: “Things It Would Have Been Helpful To Know Before The Revolution”, um dos melhores videoclipes de uma das melhores músicas do século 21.
Skye e Cisco mergulham na incandescência deste fim-de-mundo em uma certa consciência fusional. Parecem propor que, já que a catástrofe tá vindo, bora fundir com ela e virar a bola-de-fogo numa unio mystica. Similar ao que conta Hölderlin, poeta e dramaturgo, ao relatar os últimos dias sábio antigo Empédocles que morreu entrando no vulcão Etna, onde enfim sua matéria se fundiu com o universo pelas virtudes do fogo desconsolidador e refundidor.
O Ouroboros e os relógios se misturam num frenesi de imagens que também mostra os fiéis de várias seitas, os desesperados de todos os matizes, assombrados pela chegada do mega-evento que acaba nossa história. O filme não dá respostas mas pinta um vívido retrato do problema. E assim assombra a consciência do seu tempo, como uma aparição estética assombrosa, digna de uma demonologia ou assombrologia à la Mark Fisher e Derrida. Os fantasmas que assombram este filme são cada vez mais os nossos.

A morte não deixa ninguém vivo para ensinar o que aprendeu na viagem fatal, no processo de morrer, mas há ocasiões em que um insight ou epifania surge no indivíduo-em-agonia e este ainda tem o tempo oportuno de comunicar um último fiapo de sabedoria duramente adquirida. Walter Benjamin criou um emblema do velho moribundo que fornece, com seu último alento, aos que se reúnem diante de sua morte-em-processo, as palavras-tesouro que são passadas adiante como um anel onde se condensa a experiência. No cinema, podemos mencionar instantes assim em Into the Wild (dirigido por Sean Penn), quando McCandless, vulgo Supertramp, em radical isolamento e morrendo de inanição, conclui e comunica: “happiness is only real when shared”.
Em 4:44, há também uma consumação assim: “All we have is each other”, conclui Skye antes de morrer, comunicando isto ao seu parceiro na viagem-do-morrer, Cisco. Eles morrem abraçados e ela diz que tudo o que eles têm é um ao outro – mas ao mesmo tempo seu discurso é repleto de outras consolações. Skye, para além do abraço, recorre também à Arte – eles não se deitam na cama ou no sofá, mas sim dentro da obra que ela criou com o Dragão-Ouroboros que come o próprio rabo, emblema do Mito do Eterno Retorno (também emblematizado por Shiva na mitologia hindu) (cf. ELIADE, Mircea). Envolvidos pela pintura, enlaçados no abraço, eles curam os terrores da agonia com misticismo e wishful thinking.
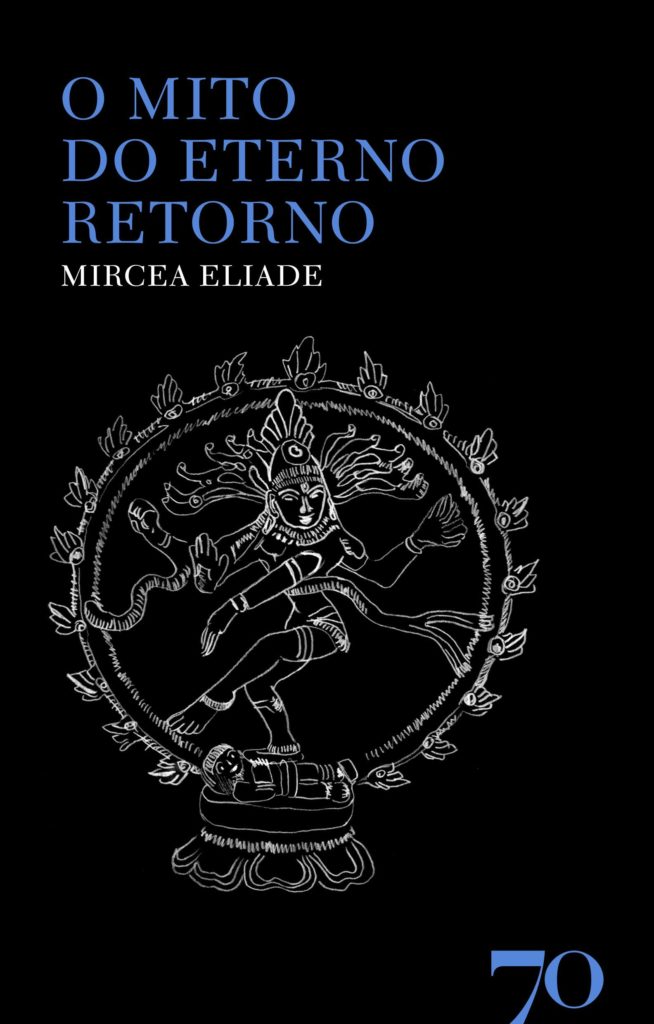
A personagem feminina de 4:44 enfim mergulha no misticismo antes de ser carbonizada pelo grande meltdown. A última palavra do filme é dela – sua crença de que os calcinados serão os eleitos e se transformarão em anjos. A crença se imiscui em quase tudo em nossas vidas, mas sobretudo nos dramas supremos de vida-e-morte. Ferrara não assina embaixo – apenas descreve este casal infinitesimal, na hora do apocalipse, usando frágeis palavras e dubitáveis crenças, abraçados e deitados sobre uma obra em tinta que logo será também cinzas.
Skye escolheu pintar em meio ao apocalipse e esta escolha pela “vocação do artista” revela a importância existencial da Estética para ela. Sua arte parece atingir um cume quando a catástrofe aproxima-se da consumação, alçando-se das meras combinações arbitrárias de cores que o filme a descreve fazendo. A arte é seu derradeiro consolo, junto com o misticismo e o abraço camarada, mas nada disto é desprovido de uma amarga ironia que Ferrara parece derramar sobre tudo inclusive por sua escolha da canção para os créditos – um blues forte, cabuloso, ao estilo de Tom Waits. Vejo alguma similaridade entre a enclosure Ouroborosiana e a atitude do trio de Trier em Melancolia que busca abrigo numa “cabaninha mágica”.
Há uma profusão de menções ao tema do fim-do-mundo na cultura. Uma autêntica polifonia de apocalipses. Gleiser escreveu um interessante estudo geral sobre o tema e na cultura brasileira a MPB também já abordou isto, de Assis Valente a Skank.
Em canção célebre na interpretação de Carmen Miranda, o cancionista galhofa com o anúncio falhado de um fim-de-mundo que não veio – enquanto o eu-lírico, que fez uma festança pensando que não viveria para encarar a ressaca, descobre contrafeito que “o tal do mundo não se acabou”.
De maneira mais sutil, a bela balada presente no álbum Estandarte traz o cancionista, através da bela voz de Samuel Rosa, endereçando pedidos quase suplicantes que incluem este: “Quando eu estiver morto / Suplico que não me mate / Dentro de ti… / Mesmo que o mundo acabe enfim / Dentro de tudo que cabe em ti…”
Ferrara fez um filme de amor e desespero, de amargura forte com pitadas de doçura, de niilismo profundo temperado com doses de misticismo consolatório: cinema de gangorra, oscilando entre a chapação e a sobriedade, entre o foda-se e o tudo valeu a pena, 4:44 mostra a hora de nossa era – o agora das catástrofes iminentes, da escassez do amor e da urgente necessidade de reinvenção das cosmovisões, práticas tecnocientíficas, fés esclerosadas e negacionismos desastrosos que nos conduziram à esta beira-de-precipício que não é assunto só de cinema mas estado concreto e real do mundo que habitamos em comum.
por Eduardo Carli de Moraes para A Casa de Vidro
Setembro de 2022
LEIA TAMBÉM: CINÉTICA – MORIA – a ser continuado.
Publicado em: 28/09/22
De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes




